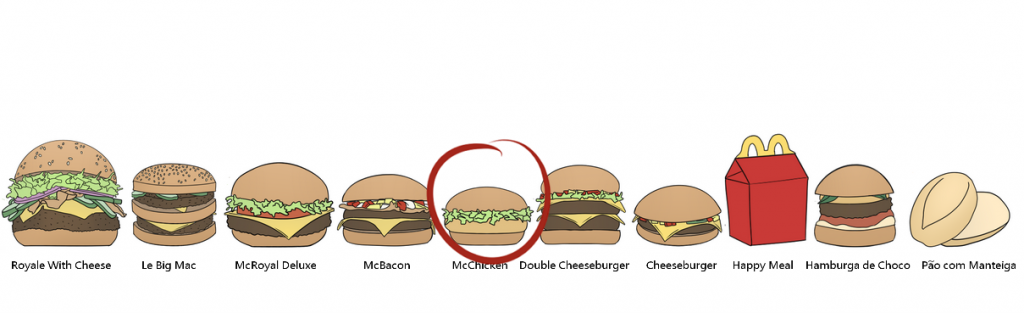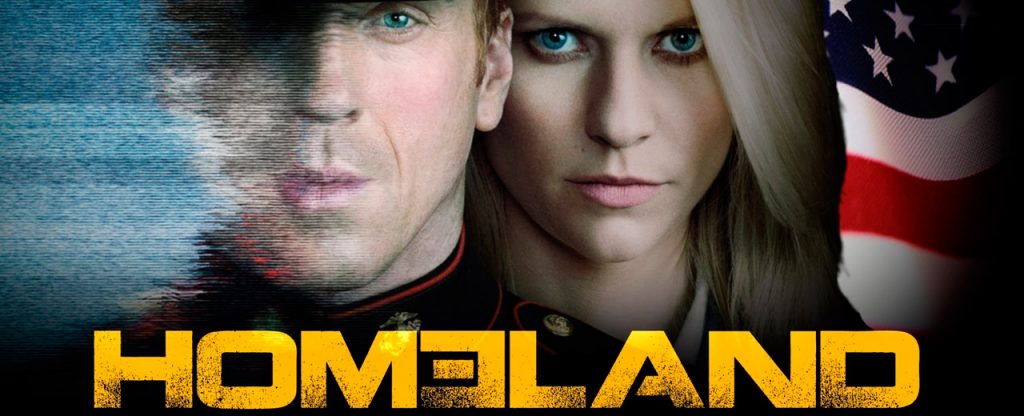
Quando surge uma série como Segurança Nacional, que se desenrola em torno do mundo dos Serviços Secretos (a CIA, no caso), há sempre um exército de gente – cujo passatempo preferido é andar em fóruns obscuros na Internet convencidos de que é ali que se discutem e expõem os meandros e os segredos mais secretos da espionagem internacional – pronto a acusá-la de falta de veracidade. Acontece que isso é confundir ficção com documentário. A função das séries não é a de representar a realidade de forma fiel, mas, antes, a de nos fazer acreditar na realidade que nos apresenta. E isso, umas vezes mais outras vezes menos (mas já lá vamos), Segurança Nacional consegue fazer.
A premissa inicial prometia, mas era difícil imaginar como a história poderia prosseguir depois da primeira temporada (aliás, um problema recorrente nas séries, mas isso dar-nos-ia pano para mangas). Um soldado norte-americano regressava a casa depois de ter estado uma série de anos preso pela Al-Qaeda e, a páginas tantas, começa a não se perceber se se trata de um herói de guerra ou de um convertido agente terrorista. A protagonizar a série, Carrie Mathison (Claire Danes) tenta controlar um distúrbio bipolar com delírios persecutórios (uma condição particularmente problemática no mundo da espionagem, está-se mesmo a ver) enquanto vai descobrindo o que realmente se passa.
A primeira temporada tinha então dois pontos de tensão que a tornavam interessante: por um lado a incógnita de quem detinha a lealdade do soldado e, por outro, a dúvida constante de não saber se Mathison estava a ser particularmente arguta ou particularmente delirante. O problema é que uma e outra coisa tinham de se resolver mais dia menos dia e as temporadas seguintes da série foram uma longa caminhada no deserto com personagens que já estavam mortas, mas ainda ninguém tinha informado os guionistas. Eventualmente a coisa melhorou nas temporadas 4 e 5, mas nunca voltou plenamente à qualidade da primeira.

Chegados à sexta temporada o mundo está diferente, mas, escrito antes das eleições dos Estados Unidos, os guionistas apostaram as fichas todas na eleição de uma mulher democrata que privilegia as vias diplomáticas em detrimento de uma abordagem mais musculada anti-islâmica. Tiveram azar, mas não muito. É que não sei se a forma como retratam as relações entre Irão, Israel e Estados Unidos corresponde à verdade, mas que me fazem acreditar nela, fazem. E é precisamente isso que faz desta temporada um regresso à qualidade da inicial. Segurança Nacional oferece-nos uma angústia permanente que advém de um pensamento do qual não nos conseguimos livrar: isto é muito próximo da nossa realidade.
A precariedade das relações entre um bloco ocidental (aqui representado pelos Estados Unidos e por Israel) e um bloco árabe muçulmano (aqui representado pelo Irão) expõe a dificuldade que temos em olhar para estas coisas sem preconceitos. A diferença de expectativas que temos entre quem usa um turbante e quem usa um yarmulke são aqui exploradas desde o nível mais micro (das mentes dos indivíduos) ao nível mais macro (das relações internacionais) e ficamos com a angústia que advém da iminência da destruição do frágil equilíbrio que existe entre estes dois blocos. E que é constantemente atacado pelas facções mais radicais de ambos os lados.
É que, ao contrário do resto da ficção – que, por mais desconforto que nos provoque, ele nunca é permanente porque sabemos que, afinal de contas, é só mesmo ficção -, com Segurança Nacional, quando o episódio acaba é quando o verdadeiro desconforto se instala. E isso acontece por sabermos que o que acabámos de ver representa mais da nossa realidade do que aquilo que realmente gostaríamos.