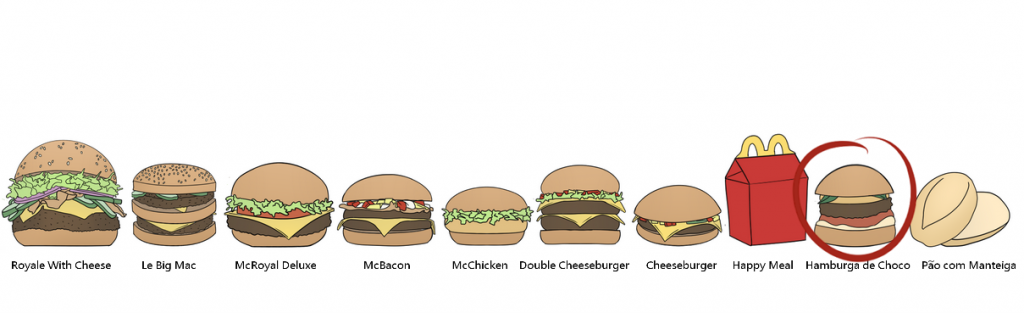Lembram-se do “Chinês” do Duarte & Companhia que era, na verdade, japonês e que estava constantemente a lembrar todos os outros da sua verdadeira nacionalidade: “Eu não sêl chinês, eu sêl japonês!”? Imaginem que ele tinha uma série em que era o protagonista. Tirem-lhe todo o interesse que ela poderia porventura ter, imaginem-na com o elenco mais desprovido de capacidade de representação que consigam imaginar, dêem ao protagonista recursos financeiros ilimitados para que não lhe falte nada e ponham isso tudo num pacote todo lustroso em que o “Chinês” é branco. Eis Iron Fist!
Já aqui disse que super-heróis não é, em geral, comigo. Mas se Legion veio mostrar que é possível fazer coisas boas nesse mundo, Iron Fist só veio agarrar na esperança que entretanto havia crescido em mim para a amarrotar e lhe pegar fogo com uma gargalhada malévola. Posto de forma muito simples, Iron Fist não tem ponta por onde se lhe pegue. Mas como isto é pago à palavra, a ver se se arranjo aqui umas pontas por onde lhe pegar…
Antes de começar a ver a série já estava mais ou menos familiarizado com o bruaá que se espalhava pela internet à conta da branquidão da personagem principal. Mas o problema da série nem é sequer esse. Sim, é verdade que ela gira em torno de um jovem branco ricalhaço que perde os pais num desastre de avião algures nos Himalaias, do qual ele é o único sobrevivente, é recolhido por monges guerreiros, domina a arte marcial mesmo à herói (pois se é branco, não havia de dominar?) e depois volta para reclamar o império que é seu por direito sucessório e que, entretanto, já não é porque toda a gente o julgava morto. A história é o que é, reflecte uma visão colonialista das culturas não ocidentais e, contra isso, batatas. Escolheram esta história e ela tem, por muito que me custa a aceitar, tanto de condenável como o Indiana Jones e o Templo Perdido. Os problemas aqui são outros.

Em primeiro lugar, a história. É suposto a história de Danny Rand (o protagonista) despertar algum tipo de simpatia? A verdade é que, sendo inegável que teve azar, ninguém lhe fez mal nenhum e achar que consegue voltar 15 anos depois (falando ainda um inglês perfeito e não estranhando minimamente nada no mundo que viu pela última vez com dez anos) e espalhar brasas à miúdo mimado porque quer a herança para a qual o falecido pai trabalhou a vida inteira. Aparentemente, a única coisa que não se desenvolveu completamente durante o seu período de desaparecimento foi a capacidade de explicar de forma simples e minimamente razoável o que lhe aconteceu. Mas lá porque esse é o único trabalho deles, não se pode esperar que os argumentistas criem histórias com tensão real em vez de a criarem através deste mecanismos manhosos, não é?
Depois, como é claro que estes truques não dão para grande história, descobrimos que uma mística figura de seu nome “A Mão” e contra a qual Danny jurou eterno combate no templo, está precisamente a operar na sua cidade-natal e, espantem-se, a utilizar a sua empresa, que entretanto é dominada pelo antigo sócio do pai. Mas lá porque esse é o único trabalho deles, não se pode esperar que os argumentistas criem histórias que não dependam de coincidências manhosas, não é?
Depois temos a questão do super-poder do herói. Trata-se de conseguir que o seu punho emita uma luz amarela e se torne aparentemente indestrutível e com muita força. Suponho que estes tenham sido os últimos a chegar ao pote dos super-poderes e tiveram de escolher entre isto e um herói que faz uma arrozinho de marisco de morrer. É que nem as cenas de pancadaria, dominadas por uma política 500 cortes por segundo e gente muito pouco acrobática a atacar o protagonista à vez, nunca lhe acertando verdadeiramente, e, quando acertam, é com um machado, mas no punho que irradia a luz amarela e, logicamente, desfaz a lâmina. É pontaria… Juntamos a isto tudo um elenco, como hei-de dizer, com necessidades dramáticas especiais e temos a nova série da Netflix. Uma trapalhada.