
Tangerine, mini-fenómeno dos festivais independentes, tem dois factores extra-cinematográficos (chamemos-lhe assim) que podem justificar grande parte dessa atenção mediática que recebeu. O primeiro é o facto de ter sido inteiramente feito com iPhones; e o segundo tem a ver com o elenco, cujos protagonistas – Mya Taylor e Kitana Kiki Rodriguez – são transexuais. No fundo, tudo fait-divers que servem para criar buzz, mas que não justificam necessariamente qualidade. Para atestar essa parte, a única solução é mesmo assistir a Tangerine.
Tangerine é um pequeno filme independente que acompanha um dia na vida de duas amigas, Sin-Dee (Kitana Kiki Rodriguez) e Alexandra (Mya Taylor). A primeira acabou de sair da prisão e descobriu que o seu namorado a anda a trair. Por isso, vai arrastar a amiga por uma Los Angeles pouco vista (móteis de classe duvidosa, diners decrépitos e ruas secundárias e estreitas que nada têm a ver com o glamour da Cidade dos Anjos que normalmente vemos retratado no cinema) em busca do amante traidor e da respectiva. Enquanto isso, a segunda prepara-se para o espectáculo que vai dar ao fim do dia num bar local. Pelo meio, vai ainda surgir um taxista arménio (Karren Karagulian), cujo background cultural conservador vai chocar de frente com esta colecção de cromos white trash.

Não é, propriamente, um filme que se destaque pelo argumento, uma vez que este é reduzido a uma simples ideia que faz avançar as suas personagens do ponto A ao ponto B. Tangerine faz-se antes dos diálogos, algures entre o improvisado e o escorreito, que tanto faz lembrar Kevin Smith como Larry Clark. Aliás, Tangerine está para a comunidade LGBT assim como Miúdos está para a juventude, já que tira um retrato realista, cru e in your face desta comunidade.
Sean Baker aproveita a portabilidade dos iPhones para realizar Tangerine com enorme leveza e liberdade criativa, fazendo deste um verdadeiro filme independente, com uma linguagem própria e pouco formatada. A isto junta-se as cores saturadas de uma Los Angeles que, apesar de ser véspera de Natal, mantém-se luminosa, solar e vibrante (e o tangerina do título refere-se precisamente às cores do céu de Los Angeles no seu lusco-fusco). Portanto, nada a ver com a ideia do Natal branco que normalmente vemos em outros filmes natalícios. Ou seja, mais uma ideia-feita que Tangerine estilhaça sem grande esforço.
O problema de Tangerine é que, ao não ter propriamente uma história e pretender ser apenas um espelho do dia-a-dia daquelas personagens, acaba por confiar demasiado nos seus actores e perder-se em algum histrionismo. Por vezes, não há paciência para aquelas damas do gueto, todas as frases a terminarem invariavelmente em bitch e muito pouca classe. No entanto – e, de certa forma até, paradoxalmente -, apesar da sua galeria de prostitutas, chulos, transexuais e traficantes, Tangerine não tem um décimo do sensacionalismo mais ou menos gratuito que têm os filmes de Larry Clark, que gritam constantemente olhem para mim. E só isso justifica o frenesim e o McChicken de Tangerine, micro-fenómeno do circuito independente.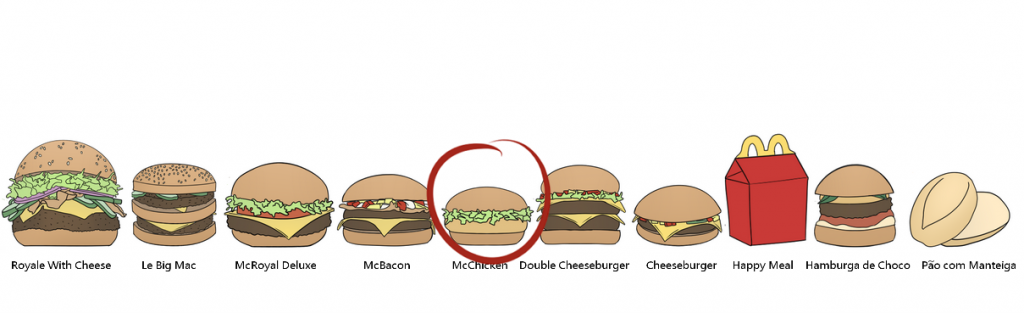 Título: Tangerine
Título: Tangerine
Realizador: Sean Baker
Ano: 2015
