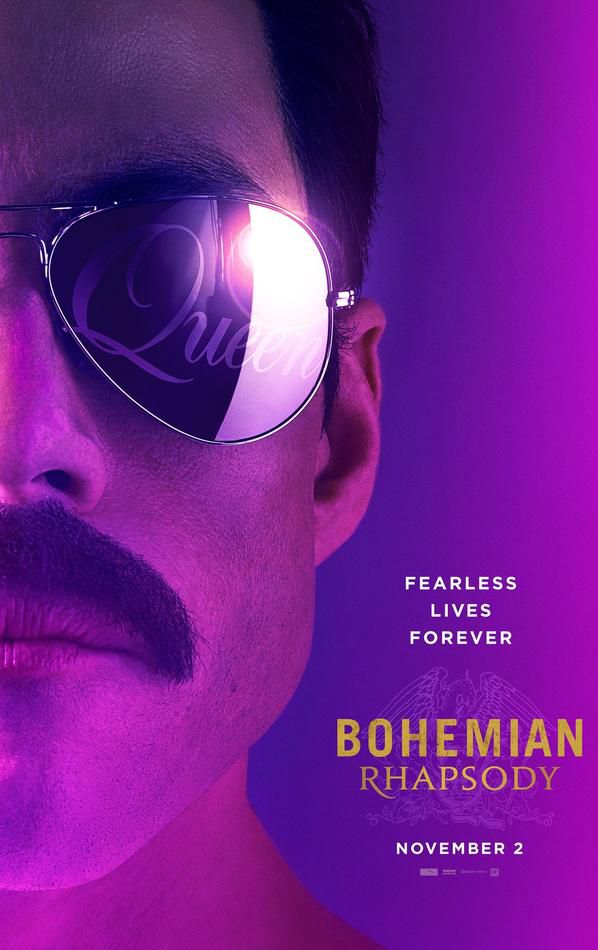
Quando Sacha Baron Cohen foi afastado de Bohemian Rhapsody, por mais que Brian May viesse dizer que o actor não tinha respeitado e entendido o legado de Freddie Mercury, não há quem não tenha ficado preocupado com a possível sanitização que o biopic poderia vir a ter. E quando, mais tarde, foi a vez do realizador Bryan Singer ser corrido, não restaram dúvidas do que poderíamos esperar deste filme sobre a vida e a obra dos Queen.
Bohemian Rhapsody é assim um filme laudatório acerca da vida de Freddie Mercury e, consequentemente, dos Queen, a banda que ajudou a fundar e a transformar num dos grandes nomes do rock. E, no fundo, não poderia ser de outra forma. Afinal de contas, estamos a falar do maior frontman da história da música popular anglo-saxónica (o maior não significa necessariamente o melhor) e da banda que se destacou pelos seus hinos. Procure-se no dicionário pela definição de banda de estádio e estará lá uma foto dos Queen.
Os fãs mais acérrimos e os mais picuínhas (não são a mesma coisa?) têm-se queixado de algumas… liberdades criativas de Bohemian Rhapsody, que privilegia sempre o drama em detrimento da veracidade dos factos. Mas só assim o filme poderia corresponder à grandeza de Freddie Mercury, um artista destinado pelos deuses do Olimpo à imortalidade através do entretenimento e da performance, um papel que o cantor nascido no Zanzibar abraçou e vestiu literalmente, de corpo e alma.

Freddie Mercury incarnava uma ideia muito clássica do artista que vive dentro de si a criação como um acto natural, inspirado por um desígnio superior, de ordem divina. Actualmente, António Lobo Antunes veste esse mesmo papel, mas enquanto o faz de uma forma quase de sacrifício, como se tudo fosse muito doloroso, Mercury fazia-o de forma festiva e excêntrica. E Bohemian Rhapsody é a versão cinematográfica dessa ideia, reclamando para isso concepção quase teológica da criação artística.
Bohemian Rhapsody não é assim um filme particularmente inspirado, com a sua colecção de clichés e lugares-comuns. Também não faz um retrato muito realista de Freddie Mercury, apesar de ter lá a doença, as suas raízes étnicas, a homossexualidade ou as drogas (mas não tem os anões a servir coca nas suas festas, como é que se pode fazer um filme sobre Mercury sem os anões?). Mas Bohemian Rhapsody é glorioso a todos os níveis, como um verdadeiro concerto de estádio, com todas as suas liberdades criativas, que fazem o filme terminar no Live Aid, com os Queen a fazerem do espectáculo de Bob Geldoff um sucesso, a contribuirem decisivamente para recolher uma batelada de dinheiro e, sozinhos, acabarem com a fome no mundo.
Por isso, é importante a mimetização de Rami Malek em Freddie Mercury (mas só na fase do bigode, porque antes disso é o Mick Jagger que vemos) ou a de Gwylim Lee em Brian May, ilustrações perfeitas dos reais. Temos a sua música em alta definição e ecrã grande como nunca tivemos e, uma última vez, vemos os Queen a tocar ao vivo. E até para quem já não consegue ouvir pela milésima vez o We are the champions sem cortar os pulsos, Bohemian Rhapsody faz, por vezes, pele de galinha. Não é, no entanto, um biopic dos Queen, mas sim um filme sobre a ideia que temos dos Queen. E só percebendo (e aceitando isso) é que vamos conseguir apreciar o McChicken.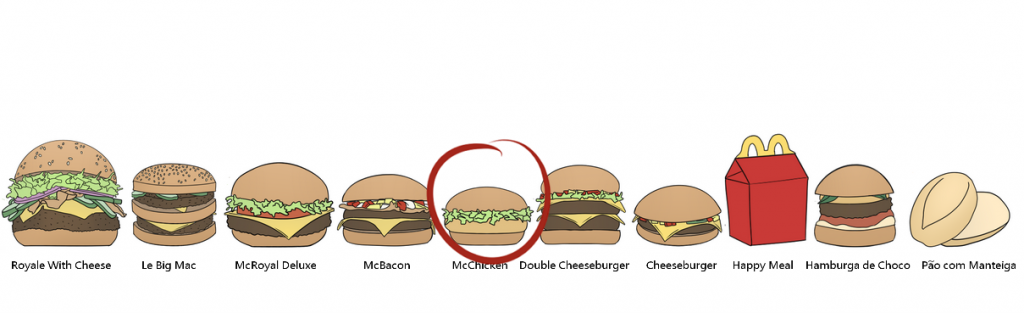
Título: Bohemian Rhapsody
Realizador: Bryan Singer
Ano: 2018
