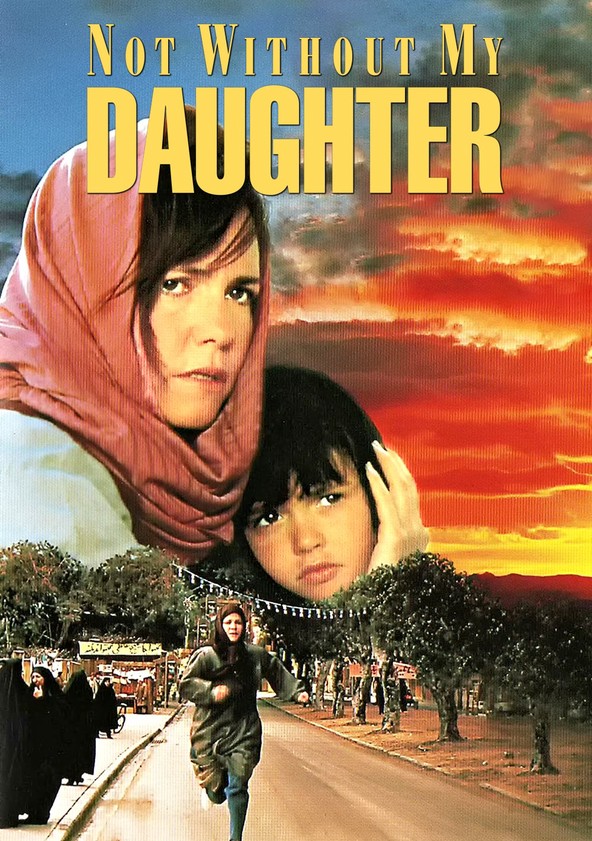
Existem poucos filmes no mundo mais racistas do que este Rapto em Teerão. Lançado numa altura em que o Irão era o inimigo número 1 dos Estados Unidos da América, Rapto em Teerão diabolizava por completo o país do Aiatolá Khomeini, escudado pela história real em que o filme se baseia. E por cada mimimi que se indigna porque a nova Pequena Sereia é mais escura do que estão habituados (porque toda a gente sabe que as sereias são arianas e ruivas), há um Alfred Molina a fazer de árabe. Já vos disse que há poucos filmes no mundo menos racistas do que este? Enganei-me, este é mesmo capaz de ser o filme mais racista de sempre.
Mas comecemos então pelo princípio. Rapto em Teerão adapta ao grande ecrã a história real de Betty Mahmoody (aqui interpretada por Sally Field, sempre em sofrimento, devidamente recompensada com uma nomeação ao Razzie desse ano), cujo romance autobiográfico era, há altura, um êxito de vendas. Betty era casada com um iraniano estabelecidos nos Estados Unidos há várias décadas, a trabalhar como médico, que um dia decidiu ir visitar a família ao Irão. Betty começa por negar-se em absoluto em visitar um país tão perigoso como aquele, mas não havia nada de racista nas suas palavras, antes um dedinho que já adivinhava. É que assim que pôs os pés na casa de família, o marido, Moddy (Alfred Molina a fazer de árabe (lol)) radicaliza-se e obriga-a a cumprir a sharia. Betty vai então elaborar um plano para fugir do país, mas nunca sem a sua filha, qual mãe coragem, tanto que esse é mesmo o mote que dá título ao livro da sua vida: nunca sem a minha filha.

Independentemente da sua história ser verdadeira ou não (o marido sempre negou todas as acusações de rapto e até há um documentário a contar a sua versão, igualmente fraquinho – Without My Daughter), Rapto em Teerão é um filme militante, que decide logo antes de começar que há um vilão na história, que tem que desmascarar a todo o custo. Em contrapartida existe uma heroína que é toda ela glória e bravura. Assim, todas as imagens do Teerão são sempre a de um país de terceiro mundo, cheia de fanáticos religiosos, com muita gritaria e sempre, mas sempre, com cara zangada. Quem nunca viu um filme do Kiarostami ou no Panahi iria acreditar que o Irão é como uma versão zangada dos ciganos de Kusturica. E, claro, tudo isso contrapõe com as imagens idílicas dos Estados Unidos no início do filme, com Betty e Moody a viverem felizes e contentes numa casa nos subúrbios, com uma cerca branca e um relvado bem cuidado em frente.
A personagem de Alfred Molina também não tem qualquer arco narrativo que explique a sua radicalização extrema em poucos segundos. Num minuto ele é um emigrante bem integrado na comunidade americana, com saudades de casa e triste pelos comentários racistas dos colegas; noutra é um fanático religioso que bate na mulher, ignora a filha e obriga-as a ficar no apartamento. A minha família vê tudo o que fazes, grita-lhe num dos vários momentos de histrionismo do filme. Até que Betty lá arranja forma de escapar, atravessando as montanhas desertas da Turquia, até chegar à embaixada norte-americana, onde o filme termina literalmente com um grande plano da bandeira desfraldada ao vento, ao som de música épica triunfal. Já vos dissemos que isto é tudo extremamente racista? E que é um Pão com Manteiga?
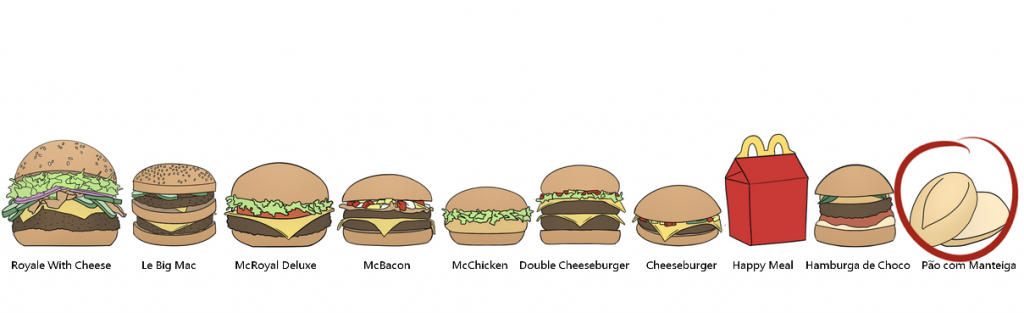
Título: Not Without My Daughter
Realizador: Brian Gilbert
Ano: 1991
